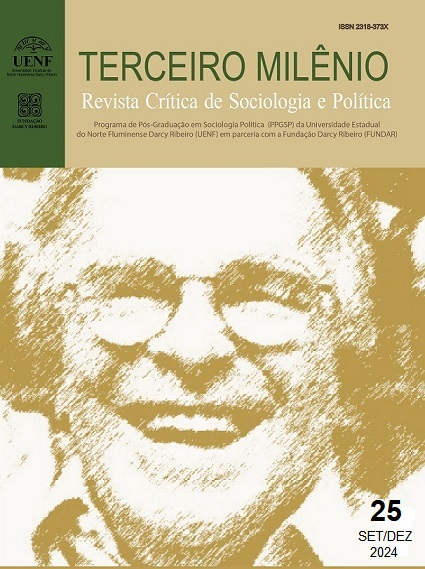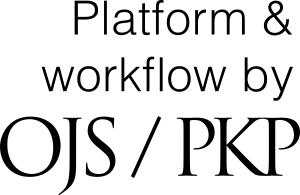Diálogo de Berta Ribeiro com a arqueologia e as tecnologias perecíveis
DOI:
https://doi.org/10.59901/2318-373X/v25n3a2Palavras-chave:
Berta Ribeiro, Antropologia e arqueologia, Tecnologias perecíveisResumo
O artigo trata da importância da produção intelectual de Berta Ribeiro para a arqueologia brasileira. Apresentamos um breve panorama histórico das aproximações e distanciamentos entre a antropologia e a arqueologia feitas no Brasil, com ênfase no século XX, para destacar a contribuição de Berta Ribeiro no sentido de reaproximar ambas as disciplinas. Argumentamos que a etnóloga esteve atenta às produções arqueológicas de seu tempo. Ela dialogou de forma efetiva e direta com a arqueologia em diversos trabalhos sobre a cultura material e, principalmente, ao sintetizar informações etnográficas para auxiliar as pesquisas arqueológicas voltadas aos contextos indígenas. De modo geral, a perspectiva multidisciplinar de Berta Ribeiro legou importantes proposições e reflexões para o estudo da cultura material, assim como para a construção das histórias indígenas vinculadas às perspectivas ecológicas desses povos da floresta. De forma particular, demonstramos que ela lidou com o conceito de estilo tecnológico para se aprofundar, em distintas escalas de análise, em estudos sobre as tecnologias perecíveis, com ênfase especial nas que são feitas com base no que a etnóloga denominou de “plantas artesanais”.
Referências
ABREU e SOUZA, Rafael. (2015). Globalização, consumo e diacronia: populações sertanejas sob a ótica arqueológica. Belo Horizonte: Vestígios, Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, v.9, n.2, p.38-62.
ADOVASIO, James. (1977). Basketry Technology. Chicago: Aldine Publishing Company.
ALVES, Marcony Lopes. (2020). Revisitando os alter egos: figuras sobrepostas na iconografia Konduri e sua relação com o xamanismo. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, v.15, n.3.
BALÉE, William. (1987). Cultural forests of the Amazon. Garden, v.11, n.6, p.12-14.
BALÉE, William. (2013). Cultural Forests of the Amazon: A Historical Ecology of People and their Landscapes. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
BARRETO, Cristiana. (1999). Arqueologia brasileira: uma perspectiva histórica e comparada. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. Anais da I Reunião Internacional de Teoria Arqueológica na América do Sul. São Paulo, Suplemento 3, p.201-212.
BARRETO, Cristiana. (2014). Modos de figurar o corpo na Amazônia pré-colonial. In: ROSTAIN, Stéphen (ed.). Antes de Orellana: Actas del 3er Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica. Quito: Instituto Francés de Estudios Andinos, v.1. p.123-132.
BEZERRA, Márcia. (2017). Teto e Afeto. Sobre as pessoas, as coisas e a arqueologia na Amazônia. Belém: GKNORONHA.
BINFORD, Lewis R. (1978). Nunamiut Ethnoarchaeology. New York: Academic Press.
BIRD, Junius B. (1979). Héta weaving. ln: KOZAK, Wladimir; BAXTER, David; WILLIAMSON, Laila; CARNEIRO, Robert. (Ed.s). The Héta indians: fish in a dry pond. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. New York, v. 55, part 6, p.425-434.
BROCHADO, José. P. (1984). An ecological model of the spread of pottery and agriculture into Eastern South America. 574f. Tese de Doutorado em Antropologia - University of Illinois, Urbana-Champaign.
CABRAL DE OLIVEIRA, Joana. (2012). Entre Plantas e Palavras: modos de constituição de saberes entre os Wajãpi (AP). 282f. Tese de Doutorado em Antropologia Social – USP, São Paulo.
CARDOSO de OLIVEIRA, Roberto. (1988). O que é isso que chamamos de antropologia brasileira? In: CARDOSO de OLIVEIRA, Roberto. Sobre o Pensamento Antropológico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. p.109-128.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. (Org.). (1992). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras/Fapesp/SMC‐SP.
CAROMANO, Caroline Fernandes. (2018). Botando Lenha na Fogueira: Um estudo etnoarqueológico do fogo na Amazônia. 296f. Tese de Doutorado em Arqueologia – USP, São Paulo.
CASCON, Leandro M. (2017). Indo à Raiz da Questão: repensando o papel de plantas cultivadas no passado Amazônico através da etnoarqueologia entre os Asurini do Rio Xingu. 411f. Tese de Doutorado em Arqueologia – USP, São Paulo.
CASCON, Leandro M.; MURRIETA, R.S.S.; SILVA, F.A. (2022). Cultivando Afetos: uma etnoarqueologia de plantas alimentícias entre os Asurini do Xingu. Habitus, Goiânia, v.20, n.2, p.511-535.
CHMYZ, Igor (ed.). (1966). Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica. Manuais de Arqueologia. Curitiba: Centro de Ensino e Pesquisa Arqueológica, v.1, n.1.
CLEMENT, C.R.; DENEVAN, W.M.; HECKENBERGER, M.J.; JUNQUEIRA, A.B; NEVES, E.G.; TEIXEIRA, W.G.; WOODS, W. (2015). The domestication of Amazonia before European conquest. Proceedings B, The Royal Society, v.282, n.1812.
COELHO DOS SANTOS, Silvio. (1997). Notas sobre a construção da antropologia no Brasil. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v.3, n.7, p.62-69.
CORRÊA, Mariza. (1997). Dona Heloisa e a pesquisa de campo. Revista de Antropologia. São Paulo, v.40, n.1, p.11-54.
DEETZ, James. (1967). lnvitation to Archaeology. New York: The Nat. History Press.
DEMARCHI, André. (2018) Berta Ribeiro, antropóloga do futuro. IN: DEMARCHI, A.; BRICE, M.; CLETO, M.D.S. (Orgs.), Prêmio Escritas Sociais: diversidades culturais. Porto Nacional: E. da galera. p.9-15.
DIAS, Adriana Schmidt; SILVA, Fabíola Andréa. (2001). Sistema tecnológico e estilo: as implicações desta inter-relação no estudo das indústrias líticas do sul do Brasil. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo, n.11, p.95-108.
EREMITES DE OLIVEIRA, Jorge. (1996). Guató - Argonautas do Pantanal. Porto Alegre: Edipucrs.
FAUSTO, Carlos. (2000). Os Índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
FERREIRA, Lucio M. (2006). Ciência nômade: o IHGB e as viagens científicas no Brasil imperial. Manguinhos. História, Ciências, Saúde, v.13, n.2, p.271-292.
FERREIRA, Lucio M. (2009). “Ordenar o caos”: Emílio Goeldi e a arqueologia amazônica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, v.4, n.1, p.71-94.
FERREIRA, Lucio M. (2010). Território primitivo: a institucionalização da arqueologia no Brasil (1870-1917). Porto Alegre: EDIPUC-RS.
FRANÇA, Bianca L.F.D.C. (2023). “Uma civilização vegetal”: a contribuição de Berta G. Ribeiro para a antropologia brasileira no século XX. 411f. Tese de Doutorado em História, Política e Bens Culturais – FGV, Rio de Janeiro.
FRANCHETTO, Bruna; HECKENBERGER, Michael (orgs.). (2001). Os Povos do Alto Xingu: história e cultura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
FRIKEL, Protásio. (1973). Os Tiriyó: Seu sistema adaptativo. Völkerkundliche Abhandlungen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover. Hannover: Kommissionsverlag Müsnstermann-Druck KG.
GALVÃO, Eduardo. (1960). Áreas culturais indígenas do Brasil, 1900-1959. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, nova série, Antropologia, Belém, n.8.
GARDIN, Jean-Claude. (1958). Four codes for the description of artifacts: an essay in archaeological technique and theory. American Anthropologist, v.60, n.2. p.335-357.
GASPAR, Meliam Viganó; RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2020). Coleções etnográficas e Arqueologia: uma relação pouco explorada. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas. Belém, v.15, n.1.
GOMES, Denise M.C. (2012). Perspectivismo ameríndio e a ideia de uma estética americana. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, v.7, n.1, p.133-159.
GOMES, Denise M.C. (2016). O lugar dos grafismos e das representações na arte pré-colonial amazônica. Mana. Rio de Janeiro, v.22, n.3, p.671-703.
HARTMANN, Thekla. (1976). Cultura material e etnohistoria. Revista do Museu Paulista, v.23, p.175-197.
HIGGS, Eric; VITA-FINZI, Claudio (1972). Prehistoric economics: a territorial approach. In: HIGGS, Eric (ed.). Papers in Economic Prehistory. Cambridge: Cambridge University Press. p.27-36.
HURCOMBE, Linda. (2014). Perishable Material Culture in Prehistory: investigating the missing majority. London/New York: Routledge.
JOLIE, E.A.; MCBRINN, M.E. (2010). Retrieving the perishable past: experimentation in fiber artifact studies. IN: FERGUSON, J.R. (Ed.). Designing experimental research in archaeology: examining technology through production and use. Boulder, CO: University Press of Colorado. p.153-193.
KATER, Thiago; LOPES, Rafael de A. (2021). Braudel nas Terras Baixas: caminhos da Arqueologia na construção de Histórias Indígenas de longa duração. Revista de História, n.180, p.1-35.
KEULLER, Adriana T. do A.M. (2012). Os Estudos Físicos de Antropologia no Museu Nacional do Rio de Janeiro: cientistas, objetos, ideias e instrumentos (1876-1939). São Paulo: Humanitas.
LATHRAP, Donald W. (1975). O alto Amazonas. Lisboa: Ed. Verbo.
LECHTMAN, Heather. (1977). Style in technology - some early thoughts. In: LECHTMAN, H.; MERRILL, R.S. (Eds.). Material Culture: styles, organization, and dynamics of technology. St Paul: West Publishing. p.3-20.
LEMONNIER, Pierre. (1992). Elements for an Anthropology of Technology. Museum of Anthropological Research (88). Michigan: University of Michigan.
LEROI-GOURHAN, André. (1971 [1943]). Evolução e técnicas: I- O Homem e a Matéria. Lisboa: edições 70.
LIMA, Tânia A. (1986). Cerâmica Indígena Brasileira. IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 2, Tecnologia Indígena. Petrópolis: Vozes. p.172-229.
MASSARO, Tatiana. (2023). Berta Ribeiro: enlace de saberes, plantas e antropologia. Mana, v.29, n.2, p.e2023022.
MEDEIROS DA SILVA, Francini; SHOCK, M.P.; CARNEIRO, G.P.; SILVA, L.A.D.; SILVA, E.G.D.; COSTA, E.H.D S.; PY-DANIEL, A.R.; WATLING, J. (2021). Flautas, banhas e caxiris: os gestos e os materiais perecíveis do passado resgatados no presente. Revista de Arqueologia. [S.l.], v.34, n.3., p.255–282.
MEGGERS, Betty (Org.). (1992). Prehistoria Sudamericana: nuevas perspectivas. Washington: Taraxacum.
MEGGERS, Betty; EVANS, Clifford. (1970). Como interpretar a linguagem da cerâmica: manual para arqueólogos. Washington, D.C.: Smithsonian Institution.
MELATTI, Julio C. (1984). A antropologia no Brasil: um roteiro. Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais (BIB), v.17, p.1-92.
MILLER, Tom. (1978). Tecnologia Cerâmica dos Kaingang Paulista. Arquivos do Museu Paranaense, nova série, Etnologia, Curitiba, v.2, p.3-51.
MORIM DE LIMA, Ana Gabriela. (2017). A cultura da batata-doce: cultivo, parentesco e ritual entre os Krahô. Mana, v.23, n.2, p.455-490.
MÜLLER, Regina A.P.; VIDAL, Lux. (1986). Pintura e Adornos Corporais. IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 3, Arte Índia. Petrópolis: Vozes. p.119-148.
NEWTON, Dolores. (1981). The individual in ethnographic collections. Annals of the New York academy of sciences, v.376, n.1, p.267-287.
NOELLI, Francisco (1993). Sem tekohá não há tekó: em busca de um modelo etnoarqueológico da aldeia e da subsistência Guarani e sua aplicação a uma área de domínio no delta do rio Jacuí, RS. 611f. Dissertação de Mestrado em História – PUC-RS, Porto Alegre.
PAROKUMU, Umúsin; KENHÍRI, Tolamãn. (1980). Antes o mundo não existia - A mitologia heróica dos índios Desâna. São Paulo: Cultura.
PESSIS, Anne-Marie; GUIDON, Niède. (1992). Registros rupestres e caracterização das etnias pré-históricas. IN: VIDAL, Lux (Org,), Grafismo indígena. São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Edusp. p.19-23.
POUGET, Frederic M.C. (2010). Práticas Arqueológicas e Alteridades Indígenas. 131f. Dissertação de Mestrado em Arqueologia – USP, São Paulo.
RAMOS, Alcida R.; CAYÓN, Luis. (2014). Apresentação. Anuário Antropológico. Brasília, v.39, n.2, p.9-11.
REEDY, Chandra L.; REEDY, Terry J. (1994). Relating visual and technological styles in Tibetan sculpture analysis. World Archaeology, v.25, n.3, p.304-320.
RIBEIRO, Berta G. (1984/85). Tecelãs tupi do Xingu. Revista de Antropologia. São Paulo. v. 27/28, p.355-402.
RIBEIRO, Berta G. (1957). Bases para uma classificação dos adornos plumários dos índios do Brasil. Arquivos do Museu Nacional, v.43, p.59-128.
RIBEIRO, Berta G. (1980). A civilização da palha: a arte do trançado dos índios do Brasil. 590f. Tese de Doutorado em Antropologia Social - USP, São Paulo.
RIBEIRO, Berta G. (1982). A oleira e a tecelã: o papel social da mulher na sociedade Asurini. Revista de Antropologia, v.25, p.25-61.
RIBEIRO, Berta G. (1985a). A arte do trançado dos índios do Brasil. Um estudo taxonômico. Belém: Museu Parense Emílio Goeldi; Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Folclore.
RIBEIRO, Berta G. (1985b). Os estudos de cultura material: propósitos e méthodos. Revista do Museu Paulista. São Paulo, v.30, p.13-41.
RIBEIRO, Berta G. (1986a). Artes têxteis indígenas do Brasil. IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 2, Tecnologia Indígena. Petrópolis: Vozes. p.351-389.
RIBEIRO, Berta G. (1986b). A arte de trançar: dois macroestilos, dois modos de vida. IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 2, Tecnologia Indígena. Petrópolis: Vozes. p.283-313.
RIBEIRO, Berta G. (1986c). A Linguagem Simbólica da Cultura Material” IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 3, Arte Índia. Petrópolis: Vozes. p.15-28.
RIBEIRO, Berta G. (1986d). Glossário dos trançados. IN: RIBEIRO, Darcy (Ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 2, Tecnologia Indígena. Petrópolis: Vozes. p.314-321.
RIBEIRO, Berta G. (1988). Dicionário do Artesanato Indígena. Belo Horizonte: Editora ltatia/EDUSP.
RIBEIRO, Berta G. (1989). Arte indígena, linguagem visual. Belo Horizonte: Itatiaia.
RIBEIRO, Berta G. (1990). Perspectivas etnológicas para arqueólogos (1957-1988). BIB-Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n.29, p.17-77.
RIBEIRO, Berta G. (1992). A mitologia pictórica dos Desâna. IN: VIDAL, Lux (Org,). Grafismo indígena. São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Edusp, p.35-52
RIBEIRO, Berta G. (1993) Ao vencedor, as batatas. Carta’: falas, reflexões, memórias/informe de distribuição restrita do Senador Darcy Ribeiro. Brasília: Gabinete do Senador Darcy Ribeiro, n.9, p.113-121.
RIBEIRO, Berta G. (1995). Os índios das águas pretas: modo de produção e equipamento produtivo. São Paulo: Edusp/Companhia das Letras.
RIBEIRO, Berta G.; VELTHEM, Lucia H. van. (1992). Coleções etnográficas: documentos materiais para a história indígena e a etnologia. In: CARNEIRO DA CUNHA, M. (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras/Fapesp/SMC‐SP. p.103-112.
RIBEIRO, Darcy (Ed.). (1986). Suma Etnológica Brasileira. Edição atualizada do Handbook of South American Indians. Vol. I: Etnobiologia, 300 p.; Vol. II: Tecnologia Indígena, 448 p.; Vol. III: Arte índia. 300p. Coordenado por Berta G. Ribeiro, Petrópolis: Vozes/Finep.
RIBEIRO, Darcy; RIBEIRO, Berta G. (1957). Arte Plumaria dos índios Kaapor. Rio de Janeiro: Seikel.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2011). Fora Das Grandes Aldeias: A ocupação do recôndito sítio Vereda III. 313f. Dissertação de Mestrado em Antropologia – UFMG, Belo Horizonte.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2014). O Sítio Vereda III: uma ocupação de grupos ceramistas e horticultores fora das grandes aldeias. Arquivos do Museu de História Natural, Belo Horizonte, v.23, n.2, p.15-65.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2020). Por uma etnoarqueologia dos trançados ameríndios. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo, v.34, p.87-110.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2021). Corpos que emergem: vegetais trançados e sua persistência entre os povos do rio Mapuera. Revista de Arqueologia, [S.l], v.34, n.3, p.146-177.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano. (2022). Tramas da Tecnologia: etnoarqueologia da variabilidade dos trançados dos povos do Mapuera. 593f. Tese de Doutorado em Arqueologia – USP, São Paulo.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano; COSTA, Rodrigo Lessa; SILVA, Fabíola Andréa. (2021). Perspectivas arqueológicas e etnográficas sobre tecnologias perecíveis: uma introdução. Revista de Arqueologia, [S. l.], v.34, n.3, p.3–14.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano; GASPAR, Meliam Viganó. (2020). Tecnologias de trançados e cerâmicas dos Wai Wai em coleções etnográficas. Indiana, Berlim, v.37, n.2, p.171-203.
RODRIGUES, Igor Morais Mariano; WAI WAI, Jaime Xamen. (2024). Coleções Históricas e Arqueologia: narrativas wai wai do passado recente. In: HISSA, Sarah de B.V.; PY-DANIEL, Anne R.; JÁCOME, Camila P. (Orgs). Arqueologias históricas nos rios Tapajós, Trombetas e Amazonas. Curitiba: Appris. p.232-304.
SCARAMUZZI, Igor. (2020). Os modos de vida, criação e reprodução das florestas de castanhais no Alto Trombetas, Oriximiná (PA). In: CABRAL DE OLIVEIRA, Joana; AMOROSO, Marta; MORIM DE LIMA, Ana Gabriela; SHIRATORI, Karen; MARRAS, Stelio; EMPERAIRE, Laure (Orgs.). Vozes vegetais: diversidade, resistências e histórias da floresta. São Paulo: Ubu editora/IRD, 2020. p.266-282.
SCHWARCZ, Lilian. (2000). O Espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras.
SEEGER, Antbony. (1980). Os índios e nós: Estudos sobre sociedades tribais brasileiras Rio de Janeiro: Campus.
SHOCK, Myrtle P.; MORAES, Claide. (2019). A floresta é o domus: a importância das evidências arqueobotânicas e arqueológicas das ocupações humanas amazônicas na transição Pleistoceno/Holoceno. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, v.14, n.12, p.263-289.
SILVA, Fabíola Andréa. (2000). As Tecnologias e seus Significados. Um estudo da cerâmica dos Asurini do Xingu e da cestaria dos Kayapó-Xikrin sob uma perspectiva etnoarqueológica. 265f. Tese de Doutorado em Antropologia - USP, São Paulo.
SILVA, Fabíola Andréa. (2007). O significado da variabilidade artefatual: a cerâmica dos Asurini do Xingu e a plumária dos Kayapó-Xikrin do Cateté. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v.2, n.1, p.91-103.
SILVA, Fabíola Andréa (2009). A variabilidade dos trançados dos Asurini do Xingu. Revista de Arqueologia, Rio de Janeiro, v.22, n.2, p.17-34.
SILVA, Fabíola Andréa (2011). A tecnologia da cestaria entre os Xikrin-Kayapó. In: SILVA, Fabíola Andréa; GORDON, Cesar (org.); SOUZA e SILVA, Wagner (fotografias), Xikrin. Uma coleção etnográfica. São Paulo: Edusp. p.173-206.
SILVA, Fabíola Andréa (2024). Etnografando a Arqueologia. Dado etnográfico, prática etnográfica e conhecimento arqueológico. Museu de Arqueologia e Etnologia. Universidade de São Paulo (e-book).
SILVA, Fabíola Andréa. (2019). Ceramic Production Technology among the Asurini of Xingu: Technical Choices, Transformations and Enchantment. Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, v. 16, e16601.
SILVA, Fabíola Andréa. (2021). Tavyva a casa comunal do povo Asurini do Xingu. Revista de Arqueologia, [S.l], v.34, n.3, p. 15-44.
SILVA, Fabíola Andréa; NOELLI, Francisco S. (2015). Mobility and territorial occupation of the Asurini do Xingu, Pará, Brazil: an archaeology of the recent past in the Amazon. Latin American Antiquity, v.26, n.4, p.493-511.
SILVA, Lucas A.da. (2019). A fluidez das relações materiais: uma arqueologia com os pés na água. Revista de Arqueologia, v.32, n.1, p.108-128.
SOUZA, Vanderlei S. (2016). Ciência e miscigenação racial no início do século XX: debates e controvérsias de Edgard Roquette-Pinto com a antropologia física norte-americana. Manguinhos, História, Ciências, Saúde, v.23, n.3, p.597-614.
STONE, Elisabeth A. (2011). The role of ethnographic museum collections in understanding bone tool use. IN: BARON, J.; KUFEL-DIAKOWSKA, B. (Eds.). Written in bones: studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. p.25-37.
TAVEIRA, Edna L.M. (1982). Etnografia da cesta Karajá. Goiânia: Ed. da UFG.
VELTHEM, Lucia H.V. (1975). Plumária Tukano. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, nova série, Antropologia. Belém, v. 57.
VELTHEM, Lucia H.V. (1997). Berta Ribeiro (1924-1997). Anuário Antropológico, v.22, n.1, p.365-372.
VELTHEM, Lucia H.V. (1998). A Pele de Tuluperê. Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi.
VIDAL, Lux (Org,). (1992). Grafismo indígena. São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Edusp.
WATLING, Jennifer; SHOCK, Myrtle P.; MONGELÓ, G.Z.; ALMEIDA, F.O., KATER, T., DE OLIVEIRA, P.E.; Neves, E.G. (2018). Direct archaeological evidence for Southwestern Amazonia as an early plant domestication and food production centre. Plos one, v.13, n.7, e0199868.
WEBSTER, Laurie D. (2011). Perishable ritual artifacts at the West Ruin of Aztec, New Mexico: evidence for a Chacoan migration. Kiva, v.77, n.2, p.139-171.
WILLEY, Gordon. (1949). Ceramics. ln: STEWARD, J.H. (ed.). Handbook of South American Indians, v. 5. Washington: Smithsonian Institution, p.139-204.
WÜST, Irmhild. (1983). Aspectos da ocupação pré-colonial em uma área do Mato Grosso de Goiás: tentativa de análise espacial. 408f. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social - USP, São Paulo.
WÜST, Irmhild. (1991). Continuidade e Mudança: Para uma Interpretação dos Grupos Pré-Coloniais da Bacia do Rio Vermelho, Mato Grosso. 505f. Tese de Doutorado em Antropologia Social – USP, São Paulo.